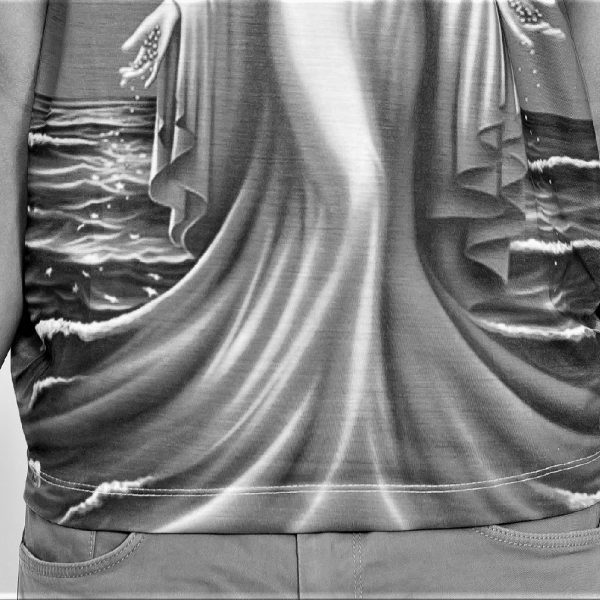setembro de 2019
ORALIDADE, MEMÓRIA, PERFORMANCE E ARTE CONTEMPORÂNEA: UMA CONVERSA COM DONNA KUKAMA
Carolina Cerqueira Correa e Talisson Melo de Souza
foto/capa wolfrahm hahn
Nascida em 1981, em Mafikeng, na África do Sul, Donna Kukama é uma artista multimídia cuja produção transita entre o vídeo, o som e a performance. Atualmente, vive e trabalha em Joanesburgo. Sua obra apresenta momentos dentro da realidade, questionando a forma como as histórias são narradas à medida que sistemas de valores são construídos. Através da criação de momentos fugazes que existem entre a realidade e a ficção, suas performances – estilo predominante em sua criação – se manifestam a partir da participação dos outros e, muitas vezes, resistem aos modos estabelecidos de “fazer arte”.
Apesar de ser pouco conhecida no Brasil, Kukama já apresentou seu trabalho em vários museus internacionais, entre eles o Museum of Modern Art na Antuérpia (Bélgica), o New Museum (Estados Unidos) e o Kunsthalle de Lucerna (Suíça), para citar alguns exemplos. A artista também participou da Bienal de Lion, em 2013 (França), da Biennial of Moving Images, 2014 (Suíça), da Bienal de Moscou de Arte Contemporânea, 2015 (Rússia) e da Bienal de São Paulo, 2016 (Brasil)[1]. Kukama esteve entre os artistas selecionados para representar a África do Sul na Bienal de Veneza (Itália) em 2013. Outras indicações anteriores incluem o MTN New Contemporaries Award (2010), o Ernst Schering Award (2011) e o Visible Award (como membro do NON NON Collective), 2011. Kukama integra ainda o The Center for Historical Reenactments (founded 2010. died 2012. haunted 2013. exorcised 2014. Musemified 2017). Atualmente é parte do corpo docente da WITS School of Arts (Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo).
The Swing (After After Fragonard), 2009 – foto matthew burbidge
Em entrevista concedida aos artistas visuais e pesquisadores Carolina Cerqueira Corrêa e Tálisson Melo de Souza, a artista e professora universitária Donna Kukama fala sobre seu trabalho e sua percepção sobre o modo como o tema das relações raciais tem sido incorporado em práticas, discursos e instituições artísticas em contextos diversos ao redor do mundo. O principal tema da entrevista girou em torno de categorias raciais, modos como o urbanismo e a arquitetura estão envolvidos nas estruturas que classificam e segregam pessoas que “vivem juntas”.
. . . . .
O Menelick 2º Ato: Como você contextualiza seu trabalho em relação a arte contemporânea?
Donna Kukama: Eu acredito que meu trabalho ocupa um espaço que está, ao mesmo tempo, dentro e fora. O fato de que ele fala sobre questões fora da arte contemporânea, fora do que a arte contemporânea faz, mas também o fato de existir fora do âmbito da arte contemporânea. Algumas das minhas performances acontecem onde não há um público de arte. É uma posição onde eu estou, cada vez mais, consciente de que meu trabalho funciona dentro da arte contemporânea, mas, ao mesmo tempo, eu tenho intencionalmente me permitido ter uma prática que é continua e que não depende das demandas da arte contemporânea, ou dos temas da arte contemporânea, ou das bienais de arte contemporânea. Algo que é capaz de existir no mundo real sem o selo da arte.
Not yet (and nobody knows why not), 2008 – foto justus kyalo
OM2ATO: Assistindo algumas de suas performances ou o registro delas online, identificamos uma direção comum: uma interrogação sobre as estruturas arquitetônicas que representam uma camada única do passado, uma narrativa oficial preservada por anos. Por qual razão você acredita ter escolhido esse tipo de questões para performar?
DK: Primeiro, um interesse em como as coisas são lembradas e de quem são as vozes que contam essas histórias, ou de quem são os rostos lembrados, isso é interessante para mim. E não é para encontrar uma contra narrativa, porque ao dizer contra, é como assumir que há algo maior do que eu a ser contado. É mais sobre fazer emergir narrativas que são centrais para minhas experiências e que acredito serem centrais, também, para muitas outras pessoas.
“…tenho intencionalmente me permitido ter uma prática que é continua e que não depende das demandas da arte contemporânea, ou dos temas da arte contemporânea, ou das bienais de arte contemporânea. Algo que é capaz de existir no mundo real sem o selo da arte”.
É uma investigação contínua. Acho que estou no ponto em que entendo isso melhor. Isso vem de uma série de instituições que se representam como um espelho e, dessa forma, refletem como as instituições são disfuncionais e a partir daí surgiu a ideia de monumentos e, você sabe o que está sendo lembrado, como as coisas são lembradas. Estou pensando em um corpo como arquivo e monumento. O corpo como portador da história.
Por um longo tempo, os livros têm sido tão excludentes, e sim, eles agora são mais inclusivos, mas se você olhar, ainda existem tipos de corpos que são marginalizados e só existem como escravizados e vítimas.
Not yet (and nobody knows why not), 2008 – foto justus kyalo
OM2ATO: Você propõe repensar os espaços institucionais da arte através do seu trabalho, no entanto, suas performances têm sido apresentadas com frequência em museus e importantes bienais, como em São Paulo, Moscou, Lion. Esse reconhecimento tem impacto em suas idéias sobre instituições artísticas e sua prática criativa?
DK: Não. Eu reconheço que não há como escapar das instituições do mundo da arte, estou muito ciente disso. Para mim, o que é interessante é como dentro dessas instituições ainda posso romper e também a ideia de não me marginalizar quando já sou marginalizada. Então a ideia de ocupar um centro é importante para mim. Estar presente torna-se parte da minha agência. Não quero estar do lado fora dizendo “ei, isso é ruim”.
“Eu reconheço que não há como escapar das instituições do mundo da arte, estou muito ciente disso. Para mim, o que é interessante é como dentro dessas instituições ainda posso romper, e também a ideia de não me marginalizar quando já sou marginalizada”.
Minhas respostas são sempre conceituais. Estou sempre considerando o que a bienal está tentando fazer. Nem sempre trabalho contra as coisas, mas contra tudo o que é problemático dentro do espaço e através do trabalho, não fora do trabalho. É uma maneira de negociar minha posição dentro dessas estruturas. Por exemplo, para Lion, a ideia era apresentar um catálogo, mas o catálogo era um passeio pela exposição, então, a partir disso, também começamos a expor os tipos de histórias que o curador contava, fazendo um certo tipo de seleção. Há sempre um tipo de comentário subjacente mesmo dentro desses espaços. Portanto, é mais baseado no que deve ser feito do que no que sinto.

The Monument of Apologies, 2015 – foto christine clinckx
OM2ATO: Como brasileiros, temos pensado, pesquisado e conversado muito com diferentes pessoas sobre relações raciais em cidades distintas. Você poderia compartilhar sua visão sobre este tópico da sua perspectiva como sul-africana?
DK: Ainda temos um longo caminho a percorrer. Eu acho que isso é óbvio. O fato é que as tensões raciais estão em toda parte, mas o tipo de grau em que as pessoas conseguem as esconder varia. Eu estou sempre preocupada com pessoas em cidades pequenas. Acho que há um mês um jovem foi atirado para fora de uma van porque pegou um girassol na fazenda de um homem branco. É como nos dias de linchamento. E isso é algo que acontece diariamente. Nós nos perguntamos o quão regularmente essas coisas acontecem… Enquanto isso, aqui em Joanesburgo nos sentamos nos mesmos lugares, conversamos juntos, mas ainda há algo muito sutil … Eu não sei … as questões raciais aqui ainda têm muito a progredir.
OM2ATO: E você acha que as pessoas estão conversando sobre isso?
DK: Não. Eu acho que em público sim, mas em casa, nas mesas de jantar, especialmente entre as pessoas que não são afetadas diretamente, não acho que essas conversas aconteçam.
What We Caught We Threw Away, What We Didn´t Catch We Kept (2015) – foto christine clinckx
OM2ATO: Você percebe alguma conexão entre a África do Sul e outros lugares? Por exemplo, quando você esteve em São Paulo durante a 32ª Bienal, no ano passado.
DK: Sim. Acho que, como na África do Sul, estou “em casa” e moro aqui por muito mais tempo, portanto, estou mais exposta a tais situações do que em qualquer outro lugar. Em outras palavras, talvez porque sou artista, estou protegida de alguma forma. Se viajo para uma residência artística ou para uma bienal, acabo em espaços completamente protegidos. Então, esse tipo de ambiente tem a possibilidade de cegar para o que acontece na vida real, e é por isso que muitos dos meus processos de pesquisa envolvem interagir com pessoas reais que habitam esses lugares para realmente saber, e a fim de ficar sob a pele desses espaços. É muito fácil se deslocar e não ser afetado porque “você é Donna Kukama”, “você está em um hotel”, “você é uma artista”, eles te tratam bem e então você vai embora. Para mim, é sempre importante entrar em espaços que não são necessariamente seguros e usar essas oportunidades para descobrir o que está acontecendo. Em muitos casos, há muitas coisas acontecendo. A Rússia é incrivelmente racista, mas eu não vivi isso porque fiz parte da Bienal. Eu senti o racismo em outros espaços e fazendo amigos fora da comunidade artística. Existem diferentes facetas do racismo. Na Suíça, por exemplo, é muito diferente, é quase invisível e se você não fica por lá um bom tempo as pessoas parecem neutras. Está incorporado nessa sociedade o “não ofender”, mas quando você parcebe quem tem o poder você vê muito claramente que a mentalidade local não é neutra.
“Eu me interesso em ver a própria estrutura sendo mais fluida. Não acontecer em um prédio, não seguir um calendário, não ter uma palestra formalmente educada, não ter um presidente, não ter um currículo … isso é um exemplo de como pensar a idéia de descolonizar a educação. Mas eu não quero que isso seja algo apenas “desfazer por desfazer”, mas pensando como uma mudança poderia ter o valor para abrir nossas mentes”.
OM2ATO: As diferentes culturas e conhecimentos presentes nas tradições africanas constituem uma camada importante que são marginalizadas na história hegemônica da África e que você resgata através do seu trabalho. A oralidade, elemento que você usa em suas performances, está ligada a essas tradições. Quão importante é o resgate da tradição oral para você como artista, professora e pessoa?
DK: O importante é, naturalmente, recuperar ou trazer de volta esse conhecimento, mas também afastar a idéia de tempo como é entendido no sentido ocidental, onde as coisas acontecem em um curso de tempo linear. Performances nos permitem esmagar essa ideia de tempo. Elas nos permitem começar a falar sobre o passado no presente e também uma maneira de imaginar possíveis futuros. Em vez de coisas como “o antes” e “o agora”. Eu acho que como uma estratégia esse colapso do tempo é realmente importante, este colapso no sentido de reorganizar as formas de pensamento, porque eu vejo isso como inerente à forma como as coisas existiam e como o conhecimento é transmitido no contexto Africano e como tem sido completamente apagado. Ainda esperamos falar de nós mesmos trazendo a história de volta ou revisitando a história. Para mim, é tudo a mesma coisa. O passado, o presente e o futuro não podem ser separados.
O conhecimento foi continuamente apagado. É chocante porque ele está bem aqui. Você não precisa viajar, você é do Brasil e do Brasil está distante, sendo sistematicamente apagado por anos. E o que também é insano, falando de linguagem, é que muitos pais, aqui na África do Sul, tem mais orgulho de seus filhos quando eles falam um “bom inglês” do que do fato de falarem bem Zulu, Xhosa … Há pessoas mais velhas que enfrentam dificuldades para se comunicar com o inglês, mas ficam felizes que seus netos falam inglês como uma pessoa de origem inglesa.
What We Caught We Threw Away, What We Didn´t Catch We Kept (2015) – foto christine clinckx
OM2ATO: Quais são seus pensamentos sobre o debate sobre a descolonização do conhecimento?
DK: Há tantas conferências, movimentos em torno da descolonização do conhecimento, mas sinto que não há ação suficiente e qualquer tentativa de ação ainda está dentro de um cenário nos padrões coloniais. Eu me interesso em ver a própria estrutura sendo mais fluida. Não acontecer em um prédio, não seguir um calendário, não ter uma palestra formalmente educada, não ter um presidente, não ter um currículo … isso é um exemplo de como pensar a idéia de descolonizar a educação. Mas eu não quero que isso seja algo apenas “desfazer por desfazer”, mas pensando como uma mudança poderia ter o valor para abrir nossas mentes.
Entrevista realizada no dia sete de julho de 2017, em Joanesburgo, África do Sul.
- NOTA DE RODAPÉ
[1] “Na 32a Bienal, a artista apresenta três capítulos que integram um processo extenso de criação de um livro. A ideia de livro, contudo, não se refere ao objeto que conhecemos, mas se desdobra em direção à performance, ao desenho, à escultura, ao vídeo, ao texto e à história oral. Este trabalho toma a forma de uma série de anúncios públicos acompanhados por projeções, produzidos em relação direta com os contextos políticos de cada um dos lugares onde esteve. Os capítulos que Kukama apresenta no Brasil são C: The Genealogy of Pain [C: A genealogia da dor], A: The Anatomy of History [A: A anatomia da história]e B: I, Too [B: Eu, também], que se darão em dias e espaços diferentes.” Fonte: http://www.bienal.org.br/texto/2545