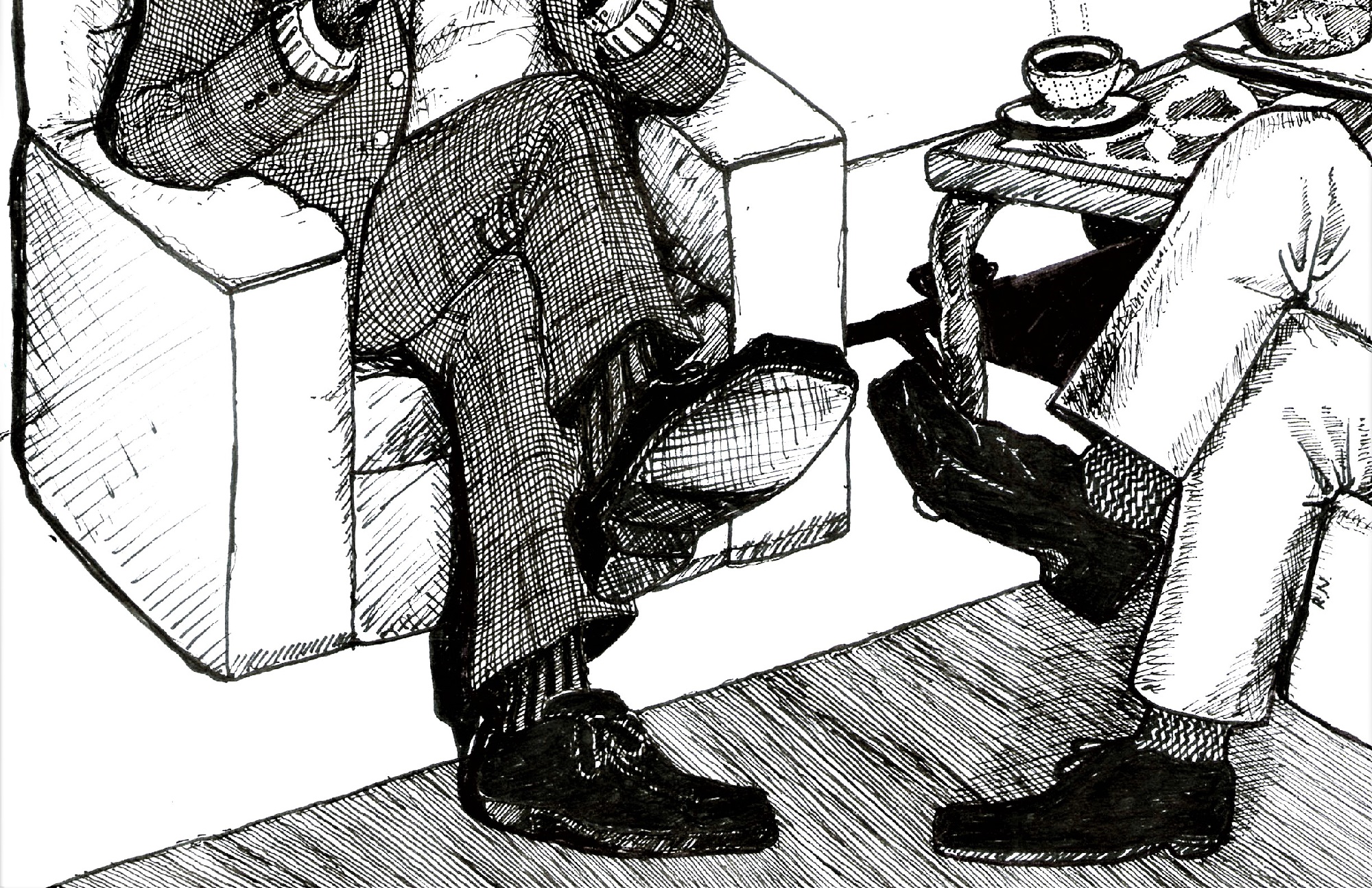fevereiro de 2014
OBOÉ: UMA NOVELA DE OSWALDO DE CAMARGO
Oswaldo de Camargo
SOBRE O TEXTO
Os trechos inéditos reproduzidos a seguir correspondem
ao início da novela Oboé, mais recente livro do escritor e jornalista
Oswaldo de Camargo (1936), com previsão de lançamento para o
final do primeiro semestre de 2014 pela Editora Com-Arte – USP.
1º CAPÍTULO
Absurdo esta minha vida!
Minha vida seria muito diferente se eu não tivesse, quando pequeno, aprendido a tocar oboé.
Criança preta, pais apanhadores de café, absurdo que, com sete anos, sempre descalço, vadiando na fazenda Cristiana – em uma região hoje chamada Vale dos Castelos —, havendo me aproximado do notável instrumento logo alcançasse habilidade e inexplicável brilho.
Absurdo também, eu, por volta dos seis anos, trazer às vezes no corpo cheiro de sabonete alemão – (Seife) – em circunstâncias que retive de narração até hoje, e só vou contar ao doutor porque vejo que já estou demais vergado debaixo da idade – 86 , cheios, à meia noite – e saber isso é muito importante para que desvende o que luziu e o que foi escuro nesta minha intricada existência.
O oboé na minha vida se deveu à alemãzinha Liddy Anne, uma entre os vinte e cinco emigrantes que aportaram a Cristiana, herdade antiga de Sinhazinha, na primeira leva que lá chegou, em 1934, para espanto e susto dos simplórios camaradas, gente preta , a maior parte.
Eu tinha seis anos. Absurdo eu ali, naquele ano em que vieram os alemães. Minha mãe apanhava café, e não me levava mais com ela; meu pai tinha sido escolhido para o trabalho de separador de grãos; com uma vassoura juntava as sementes, depois tirava as que não prestavam. Minha mãe achava mais digno eu ficar com meu pai – a mesma coisa que estar ao léu na fazenda, na barroca, solto, pois ele andava sempre, enquanto vassourava, distraído com imaginar alguma cantoria para apresentar nas festas em Pretéu, povoado adjacente a Cristiana. Meu pai inventava música, longe de pauta, sustenidos e bemóis, mas inventava bastante.
Absurdo esta minha vida!
Às vezes chego até a pensar que Deus, pra se divertir, mas me estimando muito, resolveu que eu estivesse na fazenda da Sinhazinha naquele ano em que os alemães, descendo até o Vale, terminaram sua viagem; resolveu deixar o paiol ali escondidinho atrás do casarão, deixar que Liddy Anne tivesse doze anos e iniciação de corpo.
Absurdo!
Sou assim, por isso, um tanto “desnegrado” — dizem que pouco ligo pra minha raça — mas, anote: é que às vezes me desocupo de mim mesmo e volto àqueles anos. Pra quê? Pra revolver-me no paiol antigo, à busca de alegria; mas sou triste.
Como, doutor, escapar de toda essa desavença?
Veja: sou hoje um homem desbotado, mas tive a minha cor. O oboé mostrou minha cor, de preto que se alçou e, então, foi notado; eu luzi, brilhei por cinquenta anos, na fazenda de Sinhazinha, em Pretéu, Vila Morena, em Mundéu, Tuim, aqui no triste dia do enterro do Antoninho, que perdeu a vida pela mão do mestre por ter matado o pavão dele; depois, na capital.
Quando os alemães chegaram, vindos de uma região perto de Zwickau — Saxônia — ,mudou tudo na fazenda.
De repente, os apanhadores de café, empregados de Sinhazinha – meu pai, um deles — , perceberam a paisagem extraordinária que eram os teutos saindo cedo para examinar a terra, quase todos grandões, sorrindo, sem saber palavra de nossa fala, oferecendo chocolate pros molequinhos – exclamando So schöne schwarze Kinder! (Que lindas crianças pretas!), e os camaradas rindo da prosa deles.
E eles sorriam, cor de sol, cabelos lambuzados de ouro.
Seis anos, e a mãe de Liddy Anne me ouviu cantarolando alguma coisa, sentado no primeiro degrau da escada do casarão de Sinhazinha. Na certeza, estropiação de alguma toada caipira, invenção de meu pai. Talvez assim — (vou tentar tirar da memória, que já está muito gasta):
Me vingo dessa tristeza,
cantando só alegria,
vingo sim, oi lá!
Parou diante de mim, tentou chegar mais perto de minha face e acariciar -me o pixaim de molequinho; corri. Ela exclamou algumas palavras lá na língua dela, creio que lamentando, mas eu corri pra casa, que reunia dois recintos — paredes barro; cobertura, folhas de zinco. Para espantar pulgas, minha mãe borrifava o chão com mistura de água e estrume de vaca, e espalhava com vassoura urdida com galhinhos de alecrim- do- mato. Na comida, dava às vezes mingau de fubá com folhas de taioba. Mas eu estava pensando na mãe de Liddy Anne, o cheiro perfumoso dela e a mão alva, sem nenhum calo.
Demais vivida com gente alemoa esta minha existência, doutor; difícil limpar. Mas tudo abrindo caminho para o oboé, que eu iria conhecer com sete anos.
Sem os alemães, não saberia de oboé. Sem eles, eu nunca entraria no salão da casa imensa de Sinhazinha, com ocasião para assistir ao despropósito que era viver no meio de tanta beleza, móveis de gente nobre, piano vistoso num dos cantos, luminárias muitas encimando peanhas lindas de metal dourado. Só mesmo por eu tocar oboé; mas, quando sucedeu isso de eu ser chamado pela Sinhazinha pra tocar no casarão dela, eu já ia nos meus doze anos, e um tanto sofrido, porque ninguém lá nem ligava para a música que meu pai inventava, só mesmo em Pretéu, nas festas como a de São Benedito ou na comemoração do passamento do Beato Nego Vito. E eu queria que ligassem.
2º CAPÍTULO – O BEATO NEGO VITO MERECIA MEU OBOÉ
Foi destino nascer em Cristiana, no Vale dos Castelos, ali, rente a Pretéu.
Tuim era a maior vila da região, depois vinha Morena, depois o povoado de Pretéu, em seguida, Mundéu. Em Pretéu só vivia preto; meu pai, em certo tempo, ia muito às festas em Pretéu.
— Não era quilombo, não; tinha escola, um coretinho a poucos metros da capela, consagrada ao preto escravo Nego Vito, que havia “ensantecido”, isto é, tornado santo e “tirava milagre”, como diziam. Tipo São Benedito, muito bondoso, prestimoso para com os “malungos” – (era assim na fala deles o chamamento para companheiro).
Nego Vito tinha perdido a vida defendendo molequinho que sangrava no chicote de um feitor endemoninhado. Mil oitocentos e oitenta e sete. Da morte dele saíam muitos prodígios, sobretudo havendo como destino criança magoada com ferida brava, engasgo sem volta garantida do objeto, caimento de berne morando teimoso em coco de molequinho.
As cantorias deles eram diferentes, tanto que difícil pôr junto oboé, a não ser em tom bem baixo, pra misturar sem estragar o canto.
Provei isso quando certa noite estive lá, e já corria em todo o Vale fama de que eu tinha sido convidado por Sinhazinha pra mostrar a beleza do que eu tocava.
Então, com admiração e curiosidade, me viram chegar. E com ruidosa alegria, pois meu pai era conhecido e estimado por causa das cantorias que levava pra dentro da capela de Pretéu. Contentes, esperavam que ele imaginasse o novo hino para o Beato Nego Vito, substituindo o antigo, pouco dizente com a significação do protetor dos molequinhos, que, mesmo sempre atento às urgências das crianças, oferecia larga proteção para os mais velhos; por isso o santo era muito querido e merecedor, sim, de renovação de hino – comentavam.
Doze anos, e já tocara no casarão de Sinhazinha!
Decorrência disso, decidiram me homenagear como “menino do oboé”. E deu-se, a seguir, que naquela noite pediram que eu tocasse a canção O Kinimbá¹, melhor, que pusesse acompanhamento para a apresentação de Alicinha, uma pretinha linda e voz que condizia com a aparência dela — esguiazinha, olhos graúdos, celestes. Alicinha, pouco antes, já me passara a melodia, que segurei na memória com muita facilidade. Pra meu acerto, explicou que era canto afro-religioso de preto pernambucano e – certeza — pondo junto oboé ia sair bem mais bonito.
Subi com ela ao coretinho e iniciei a introdução, com bastante fé e sentimento. E Alicinha, olhos voltados para o céu, donde o Nego Vito abençoava aquela gente toda:
O Kinimbá! Kinimbá!
Dada ô kê Kinimbá!
Salô ajô nuaiê…
Doutor, pela primeira e única vez meu oboé foi indeciso, vacilante. Ainda mais quando um molequinho, todo grudado à noite, iniciou batida num pequeno tambor — tum, tum, tum, tum…
E Alicinha:
O Kinimbá! Kinimbá!
O Kinimbá! Kinimbá!
Não pude ir junto; meu oboé não pôde; a dificuldade curvava o som dele, que me pareceu fictício, diferente do que assumia com os cantares na fazenda de Sinhazinha, na capela dedicada à Imaculada.
Olhei o céu; vi que estrelas conversavam com a noite, e pareceu-me que o Vale todo estava ouvindo Alicinha e o tambor – tum, tum… Mas, doutor, o oboé não podia parar. Sabia, eu estava desenhado pra tocar; certeza, não podia parar.
— O doutor concorda comigo? Me alegra saber. Sim, o Nego Vito merecia meu oboé. Era preciso contrapontar com a canção de macumba, com Alicinha, o tambor…
Eu tinha treze anos; salvou-me a minha inocência.
Junto a Kinimbá, à voz de Alicinha e o tambor coloquei a Dança das Sombras Bem-aventuradas, da ópera Orfeu, de Gluck, que eu havia tocado algumas vezes na capela de Cristiana ou, em outras, distraindo-me junto ao Córrego da Solidão, que corria inteiro dentro da fazenda de Sinhazinha.
Surpreendido, procurava conversar com tudo aquilo.
E o molequinho seguia: tum, tum, tum…
E eu tocava Gluck…
Mas eles entenderam logo a minha alma. E me acolheram e me acarinharam , naquela noite, e sempre que voltava para aulas de Teoria com o organista Noé, nascido em Pretéu e de lá morador.
Assim, em seguida à apresentação de Alicinha, oboé e o tambor, naquela noite soltaram uma cantoria combinada com o assobiar de três pretos – (tradição serem três). Soviavam bem alto em direção à mata, que, sob tão grossa escuridão, me pôs grande medo. Diziam que era canto e jeito de cantar guardado do tempo dos cativos na região. Servia para acordar a Liberdade, que dormia lá no muito longe. Sendo assobiado, com aquele sopro fininho, seguia fácil nas veias de quilômetros e quilômetros dentro do mataréu denso.
Mas isso não era conhecimento de quem nascera em Cristiana, no Vale dos Castelos, como eu, a cinco léguas de Tuim, sete de Vila Morena, muito, muito mais de Mundéu. Pretéu — já falei — era mais pegada a Cristiana.
Porém, se eu tivesse nascido em Pretéu, não haveria nunca aprendido oboé; nem estaria contando tudo isso ao doutor.
NOTA REFERENTE A KINIMBÁ
1– Canção de macumba recolhida em Pernambuco e com trânsito também no repertório de cantores eruditos.
Segundo o maestro Aricó Júnior, que a transcreveu para piano e quatro vozes: Xongo, divindade presente na macumba, está na terra; Kinimbá, porém, sente nostalgia do céu: a nuiaê.